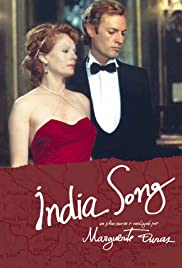INDIA SONG (1975), de Marguerite Duras
INDIA SONG (1975), de Marguerite Duras
Luiz Carlos Oliveira Jr.
India Song se inicia com um grande plano geral que mostra o sol se pondo sobre uma paisagem campestre. Na verdade, aquele sol de cor cítrica não exatamente se põe: ele não se esconde por trás de uma montanha ou da linha do horizonte – ele praticamente se dissolve no céu como uma pastilha acidulada se dissolveria na água. Enquanto o sol se esconde, ouvimos em off duas vozes femininas. Uma canta e fala frases indiscerníveis. A outra discorre sobre a vida da moça a quem pertence a primeira voz: foi expulsa de casa depois de engravidar aos dezessete anos, vagou solitária, mendigou, enlouqueceu.
Não é essa, contudo, a história que acompanharemos no filme – e as donas daquelas vozes tampouco aparecerão, continuarão a existir somente como imagem aurática, personagens vocais. A protagonista não será uma pobre nômade, mas o seu oposto: uma aristocrata que vive enclausurada numa suntuosa mansão ornada por espelhos, lustres, cristais, porcelanas e outros apetrechos nobres – sua prisão de luxo. Ela se chama Anie-Marie Stretter (Delphine Seyrig) e pertence ao alto escalão colonial francês na Índia dos anos 1930. Apesar de casada com o embaixador, está sempre rodeada de amantes e cortejadores, sob o consentimento tácito do marido.
Como de praxe no cinema de Duras, trata-se de um teatro de câmara, de um drama em huis clos. Mas, como também é de praxe no cinema de Duras, esse universo fechado é uma caixa de ressonância para o que vem do mundo exterior, do fora de campo, do passado colonial, da História (o passado, tanto nos livros como nos filmes de Duras, nunca é um imaginário apaziguado, mas sempre tenso, enigmático, cheio de pontos obscuros e enlaces mal resolvidos).
Como o plano de abertura já demonstra, India Song é um filme para ser visto e escutado. A afirmação pode soar redundante, já que todo filme sonoro deve ser visto e ouvido, sem separação possível. Duras, todavia, concebeu o som de India Song com tamanha independência em relação às imagens que é quase como se ele constituísse um filme à parte, que é o mesmo, no fim das contas, mas parece ainda assim emancipado da narrativa visual. Mais até que Nostalgia (1971), de Hollis Frampton, India Song leva às últimas consequências a hipótese de construir dois filmes ao mesmo tempo, um com as imagens e outro por meio das vozes, que se desacoplam do visível e obrigam o espectador a uma esquize perceptiva: ele precisa ver o filme composto pelas imagens e ouvir (e também “ver”, de alguma forma) a segunda camada de filme que as vozes em off sobrepõem à primeira. O liame aparentemente natural – mas, na verdade, totalmente fabricado e artificial – que, desde a sistematização do uso do som sincronizado à imagem (na passagem dos anos 1920 para os 1930), forjou para o cinema a correspondência direta entre as falas ouvidas pelo espectador e os corpos que aparecem na tela (no caso dos narradores extradiegéticos, da voz over, tem-se normalmente a garantia de uma conexão lógica entre a narração e o universo dramático encarnado nas ações e nas personagens), esse liame, enfim, é aqui desfeito sem piedade. Ao romper esse laço, Duras torna conspícua a arbitrariedade do contrato que mantinha vozes e corpos unidos. O elemento aurático, agora, desprendeu-se do visível, deu-lhe as costas.
Há um plano significativo: dois atores se aproximam, se encaram de frente em silêncio, e assim permanecem por um tempo, até saírem de quadro. Tão logo eles somem do campo visual, suas vozes começam, em off, um diálogo. É como se, nesse filme, para se ter direito à voz fosse preciso abrir mão de estar em quadro, furtar-se ao visível, pelo menos o visível enquanto presença atual na imagem.
Mas as regras não são imutáveis (o que tornaria o jogo demasiadamente previsível e repetitivo) e o sistema pode se modificar de forma surpreendente. É assim que, vez ou outra, as vozes, as mesmas vozes que pareciam ter dado as costas às imagens desde o primeiro plano do filme, eis que, de repente, elas despencam do céu de palavras e aterrissam sobre as imagens, designando personagens (o Vice-Cônsul de Lahore, interpretado pelo sempre magnífico Michael Lonsdale), lugares (a quadra de tênis vazia) e objetos (a bicicleta vermelha de Ane-Marie Stretter) que efetivamente vemos em quadro. Imagem e som se reatam – somente para, logo em seguida, despistar-se novamente. Em outros momentos, as vozes que ouvimos são as das personagens em cena, e o conteúdo das falas reproduz o diálogo que estão tendo. Os lábios dos atores, porém, não se mexem: o diálogo transcorre em off. A palavra, em India Song, mantém sempre algum grau de autonomia com respeito à imagem, como que para preservar sua potência literária. Tal como Manoel de Oliveira e o casal Straub/Huillet, Duras leva a literatura ao cinema com total frontalidade e franqueza, sem maquiar a palavra, sem vesti-la com a pele do cinema: a palavra simplesmente irrompe no filme, como um objeto autônomo que não quer se adaptar. Duras filma justamente a resistência entre palavra e imagem – uma resistência que, por vezes, torna-se cumplicidade, mesmo que temporariamente.
India Song pode ser uma experiência exigente – pela obstinada recusa da forma dialógica convencional (pedra angular da narrativa clássica); pelo rigor imperturbável de uma mise en scène que distribui os corpos no cenário com marcações milimétricas; pelos espelhos que insistem em reduplicar o espaço visual da cena e complicar a trama escópica que entretece relações sutis entre as personagens; pelas imagens cuidadosamente construídas segundo padrões de iluminação e composição que parecem mais próximos da pintura do que de qualquer estilo cinematográfico conhecido; pela lentidão inabalável da câmera e dos atores; pelo rosto impassível de Delphine Seyrig, que não reage nem ao calor de Calcutá, nem aos gritos histéricos do Vice-Cônsul de Lahore (vindos do fora de campo, obviamente), permanecendo sempre com aquele semblante de autômato que a atriz já exibira em O ano passado em Marienbad (1961) e em Muriel (1963), de Alain Resnais, e que no mesmo ano de India Song ela levaria ao esmero absoluto em Jeanne Dielman, de Chantal Akerman.
De fato, a aposta de Duras é arriscada, requer que abdiquemos de nossos mais arraigados hábitos de espectadores (seguir uma trama, envolver-se emocionalmente com as personagens) e que aceitemos desbravar um novo território sem a ajuda de um mapa ou de um guia. Mas é frequentemente nos sítios mais perigosos que se encontra o ouro.
28/05