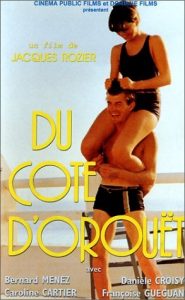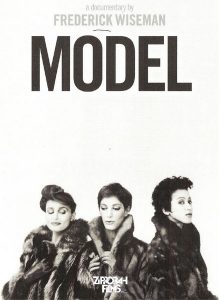Artimanhas do direto
Artimanhas do direto
Luiz Carlos Oliveira Jr.
O que Du côté d’Orouët (1973), de Jacques Rozier, e Model (1980), de Frederick Wiseman, têm em comum é menos o tema do que a técnica, e mesmo nesse terreno ambos diferem enormemente. A proposta de agrupá-los se deve tão somente ao fato de que, cada qual a seu modo, eles desbravam de forma extraordinária as potencialidades do estilo “direto” de filmagem, um no campo ficcional e o outro, no documental.
O direto, em princípio, remete a um método de filmagem e de gravação de imagem e som – tributário, entre outras coisas, de uma série de inovações técnicas ocorridas por volta de 1960: câmeras mais leves (que podem ser operadas no ombro do cinegrafista) e menos barulhentas (facilitando a captação do som direto), gravadores magnéticos portáteis e em sincronia com a câmera, películas sensíveis a condições de luz desfavoráveis (dispensando os pesados e dispendiosos equipamentos de iluminação antes necessários), tudo contribuindo para reduzir o aparato de filmagem e possibilitar equipes menores e mais ágeis. As reportagens televisivas com materiais menos custosos (película em 16mm, câmera Éclair) e com tomada de som sincrônica (gravador Nagra) realizadas no início da década de 1960 foram, de certa forma, um laboratório de experimentação para o que se desenvolveria com mais liberdade no cinema.
A técnica do direto não se limitou ao documentário, embora tenha florescido primeiramente nele (sobretudo no trabalho de cineastas como Pierre Perrault, Robert Drew, Richard Leacock, D. A. Pennebaker, os irmãos Maysles, Fernando Lopes – além, é claro, de Wiseman). No cinema de ficção, fez despontar um estilo de encenação mais despojado e improvisado, que não partia mais de um roteiro estruturado e dispensava os “ensaios” e os diálogos inteiramente decorados, preconizando a espontaneidade dos atores e da própria direção. As cenas só começavam a ser “escritas” depois que a câmera era ligada.
E não eram só os métodos de rodagem que o direto transformava, mas também os de montagem, já que a filmagem mais solta e aberta ao imprevisto estimulava o registro de uma enorme quantidade de material – o que se comprova na tendência dos filmes realizados por meio dessa técnica a apresentar uma duração muito mais longa que a habitual, como se observa em alguns filmes de Jacques Rivette, de John Cassavetes e do próprio Rozier –, redobrando o trabalho de seleção dos planos e de estruturação do filme na mesa de montagem. No paradigma do direto, mais do que em outros estilos de composição cinematográfica, o filme realmente precisa ser construído duas vezes: primeiro, na filmagem; depois, na edição. O roteiro, se houver um, se elabora durante a filmagem e se completa na montagem, ou melhor, roteiro, filmagem e montagem se tornam um processo de criação uno e inextricável.
Crônica de um fim de verão
Du côté d’Orouët é amplamente tributário dos prodígios do direto, ainda que sua força cinematográfica não provenha somente disso. O parti pris do filme não poderia ser mais simples: três jovens amigas vão para uma casa de praia aproveitar os últimos dias do verão, antes da volta ao trabalho e à rotina. A primeira sequência, que bem poderia estar num filme de Éric Rohmer, mostra uma delas no escritório em que trabalha no centro de Paris, datilografando dossiês e relatórios enfadonhos em meio às demais secretárias e ao jovem patrão que claramente tem uma queda por ela. Pausa para almoço, conversa com a amiga, férias combinadas – mas o chefe, que se intrometeu no almoço e na conversa, parece disposto a dar um jeito de se imiscuir nessa viagem.
A segunda sequência já mostra as meninas chegando ao litoral e se instalando na casa onde passarão as próximas semanas – um pequeno castelinho kitsch na areia da praia de Saint-Jean-de-Monts, “perto de Orouët” (que seria a tradução do título original). Elas estão animadas, excitadas, divertem-se com qualquer coisa, conversam sobre qualquer bobagem. As pantufas de madeira encontradas num armário sob a escada, pertencentes aos antigos donos da casa (os avós de uma das meninas), são motivo suficiente para uma infindável crise de risadas. Rozier apenas registra tudo, observa parcimoniosamente, não parece ter um critério seletivo muito rigoroso, está interessado menos em arquitetar uma narrativa do que em nos imergir em certo regime de tempo, em nos fazer partilhar uma forma de (des)ocupação do tempo. Somos transportados, de maneira muito concreta, para a sensação do que é estar de férias, en vacances, em estado de vacância, de disponibilidade ao vazio que os dias podem oferecer em seu escorrer inútil. É como se Rozier pusesse em cena um olhar de etnólogo, mas um etnólogo que, em vez de se debruçar sobre os hábitos culturais de um povo distante, decide inventariar os valores e códigos comportamentais de seu próprio meio social, isto é, da classe-média francesa.
Toda a alegria gratuita e contagiante das meninas, porém, já possui um contraponto: a praia não é um paraíso mediterrâneo com mar azulíssimo, cassinos luxuosos e sol rutilante. Trata-se, inversamente, de uma praia qualquer da Bretanha, com uma longa faixa de areia monótona e sem nenhum atrativo visual em particular. Já é setembro, fim de temporada, a praia está quase deserta, as pessoas já voltaram ao trabalho, a maioria dos bares e restaurantes fechou e só reabrirá no próximo verão. O outono se aproxima, o vento frio invade a casa à noite. O cassino é uma espelunca localizada num terreno lamacento. Há, portanto, um pano de fundo melancólico, mesmo que não pareça afetar as meninas num primeiro momento.
Cartelas informam a data a cada início de sequência, contando a passagem dos dias despretensiosamente (Rohmer retomaria o mesmo procedimento mais de vinte anos depois em Conto de verão, de 1996, certamente inspirado em Rozier). As jovens dialogam sobre o que fazer para a janta, sobre a preguiça de preparar a janta, sobre a dieta que uma delas quer seguir por se julgar acima do peso. Um cinema reduzido à forma mais prosaica possível. Dir-se-ia que estão todos – as personagens, o diretor, o espectador – à espera da ficção, do drama. A artimanha consiste justamente nisso: em nos colocar nessa água parada, nessa dilatação de um presente vazio, que configura tanto o desejo de adiamento do fim das férias (há no filme, mal ou bem, o que os manuais de roteiro chamam de deadline) quanto a condição de possibilidade de um drama que, para existir, deve se infiltrar de mansinho, chegar pelas beiradas. E ele chega: primeiro, com a aparição “inesperada” de Gilbert, o chefe de uma das meninas, que foi até lá, obviamente, com a intenção de ficar com ela; em seguida, quando conhecem um outro rapaz, um velejador, que é como o duplo em negativo do desajeitado Gilbert (de quem as meninas fazem troça na maior parte do tempo). O velejador, com seu ar de galã desportista, torna ainda mais evidente a completa falta de sex appeal de Gilbert.
Du côté d’Orouët tem algo dos contos morais rohmerianos, bem como das séries posteriores (“Comédias e provérbios”, “Contos das quatro estações”), mas sem os diálogos teatralizados, as reflexões pascalianas (Minha noite com ela), as conspirações amorosas (Pauline na praia), os trajetos de inteligência perversa e de obsessão fetichista (O joelho de Claire). Tampouco se encontram aqui os milagres cosmofânicos de O raio verde e Conto de inverno, ou a circularidade narrativa de Conto de verão, feita de deambulações peripatéticas e diálogos em trajetos vagarosos ao longo da orla. Rozier é mais retilíneo e menos reflexivo. As pessoas falam e agem sem aquela autoconsciência tão característica das personagens de Rohmer. E o espaço do drama se acha vedado a qualquer interferência de uma ordem superior, quer provenha ela de uma lógica aristotélica capaz de organizar o mundo representado, quer se manifeste por uma revelação cósmica que ponha fim aos conflitos sentimentais das personagens.
A concentração da narrativa de Orouët em eventos menores ou mesmo insignificantes redimensiona a escala dos fenômenos, magnifica cada pequeno gesto como grande acontecimento. Uma tensão se anuncia, até culminar na antológica cena do jantar, em que Gilbert se propõe a cozinhar um prato de frutos do mar que sua avó lhe ensinou. O drama brota do interior mesmo do registro semidocumental e da cena captada em direto, decupada no instante da filmagem, preparada junto com a janta. E depois, à mesa, com a refeição servida, entendemos por que Rozier, em sua simplicidade aparente, em sua encenação crua e direta, é um dos cineastas mais fundamentais da Nouvelle Vague, embora sua obra tenha ficado relativamente desconhecida (é uma pena que o acesso a seus filmes seja tão difícil).
A indústria do plástico
Os documentários de Frederick Wiseman seguem sempre o mesmo método de filmagem e obedecem à mesma estrutura de montagem. A cada novo filme, um mesmo dispositivo é empregado para investigar uma instituição diferente – asilo psiquiátrico, laboratório científico, escola de ensino médio, universidade, juizado de menores, hospital, museu, zoológico, família etc. Em Model, ele acompanha o dia a dia de uma agência de modelos nova-iorquina. Vemos as exaustivas sessões de maquiagem e de pose, a gravação de comerciais, a discussão técnica dos funcionários da agência sobre os perfis dos modelos (qual se encaixa melhor nesse ou naquele trabalho), as entrevistas de emprego com jovens que aspiram a uma carreira na indústria da moda.
Como de costume nos filmes da corrente do direct cinema, o documentarista nunca se dirige às pessoas mostradas na tela, que só conversam entre si – a enquete, a entrevista feita diretamente para o filme, não faz parte do repertório do cinema direto (que, paradoxalmente, adora mostrar situações de entrevista, desde que conduzidas por pessoas que não façam parte da equipe do documentário). A câmera de Wiseman se naturaliza no ambiente: o tempo extenso de preparação de seus filmes engloba uma primeira etapa de aclimatação da câmera nos espaços filmados, até que as pessoas se acostumem com ela ou até “esqueçam” que ela existe. Como se diz com frequência, essa câmera se comporta à maneira da “mosca na parede”, ainda que sua presença, no fim das contas, não seja exatamente discreta: todos ali estão conscientes da câmera – vivem suas vidas normais, mas acrescidas de um efeito-cinema. É claro que, na sociedade contemporânea, todo sujeito já é a performance constante de si mesmo e de sua vida. Por se tratar de um filme ambientado em um dos ramos da indústria do espetáculo, isso se torna ainda mais evidente em Model. Em quase todas as cenas, há a presença em quadro de uma câmera (fotográfica, cinematográfica, televisiva), de um dispositivo de imagem que chegou antes da câmera de Wiseman e já impôs ao real filmado uma primeira camada de performance e representação.
Há algo aqui que Harun Farocki retomaria em Natureza morta, de 1997: um estudo de como se fabrica a imagem publicitária, de como se abstrai a realidade para entregar um produto inteiramente encapsulado no mundo reificado da mercadoria. Farocki, no entanto, mostra publicidades de objetos e alimentos (relógio, cerveja, queijo), ao passo que Wiseman filma esse mundo em que o consumo estético do corpo – convertido em imagem, em signo – é o verdadeiro comércio em jogo. Uma indústria que polimeriza os corpos, plastifica as aparências, vende imagens de segundo grau, já codificadas por toda uma iconografia comercial que arremeda padrões de representação engastados no reservatório cultural das imagens, um grande self-service de ícones e clichês que devem tanto ao imaginário do cinema quanto à história da arte em geral (a pintura, a escultura, os cânones de beleza ocidentais). Esses padrões não são apenas imitados pela publicidade, mas também fetichizados, isto é, desgarrados do contexto, removidos do mundo social e histórico: isola-se a parte do todo, usa-se a imagem como duplo substitutivo da realidade.
Ao contrário das imagens pasteurizadas produzidas pelos profissionais da publicidade documentados em Model, a realidade é o que está sempre em excesso, sempre suscetível ao surgimento inopinado – e potencialmente traumático – do que ainda não foi filtrado pela representação. Uma das coisas interessantes de Model é que Wiseman reinscreve na cadeia de imagens as sobras do real, as cenas de rua, os transeuntes quaisquer (alguns, curiosamente, já parecem encarnar os códigos fashion em sua própria vida cotidiana), as pessoas “comuns” que passam pelas calçadas enquanto um comercial é gravado, enfim, tudo aquilo que a publicidade se esforçou para manter à margem da imagem. Entre um bloco do filme e outro, esses registros da realidade das ruas retornam, como materiais assumidamente extrínsecos ao universo retratado, mas que não nos deixam ignorar que esse mundo do glamour é contíguo a uma realidade sem maquiagem, sem alta costura. Quando assistimos à versão final de uma vinheta publicitária de poucos segundos, depois de ter visto os bastidores de suas diferentes etapas de realização durante quase meia-hora de filme, todo o fora de campo que a vinheta excluiu ainda está fresco em nossa memória. As marcas do trabalho contaminam a imagem-fetiche da mercadoria.
Em Rozier, a montagem era, antes de tudo, um agenciamento do tempo, uma disposição linear de blocos de ação mais ou menos soltos, que pareciam selecionados menos em função de uma tessitura narrativa rígida do que em virtude da potência individual de cada plano – o critério era conservar os planos que “deram certo” e descartar os demais, não importando quão lacunar e “aleatório” pudesse ficar o filme. Em Model, diferentemente, a montagem é uma máquina retórica assertiva, uma organização discursiva com orientação precisa. É assim que, em dois momentos estanques, mas claramente articulados, vemos uma passeata da comunidade negra reivindicando igualdade de direitos e, mais tarde, uma sessão de fotos em que modelos seguram cartazes parodiando o discurso do movimento feminista – palavras de ordem transformadas em slogans publicitários, num processo perverso pelo qual a cultura oficial se apropria das vozes minoritárias para revertê-las em signos comerciais. Não pode haver contradiscurso para o capitalismo, ou melhor, mesmo os discursos de oposição são cooptados para a área do livre comércio de bens culturais, minando a eficácia da militância política ou, no mínimo, tornando seu trabalho ainda mais difícil.
A figura-chave é Andy Warhol, que aparece duas vezes no filme. Na primeira vez, na verdade, não é exatamente ele que aparece, mas uma de suas imagens mais conhecidas: a serigrafia feita a partir de um pôster de Mao Tsé-Tung, que se encontra pendurada no alto da parede da agência de modelos. Deslocado para esse espaço, o signo da revolução cultural chinesa passa a estar lado a lado com imagens da cultura de massa norte-americana. É tanto Mao quanto a pop art que se veem aí banalizados pela circulação indiferente de clichês. Mais adiante, Warhol em pessoa surge no filme, conversando com dois modelos que falam sobre o conflito entre realidade e ilusão, entre subjetividade interior e imagem exterior. Ora, essa fronteira era justamente o que Warhol, desde os anos 1960, já havia tensionado até o ponto da ruptura, fosse em suas serigrafias pop, em suas réplicas de embalagens de produtos industrializados ou em seus “Screen tests” (os retratos filmados com ícones da contracultura e com figuras que compunham o star system marginal da Factory).
É interessante ver Warhol nesse filme. Os procedimentos de serialização e multiplicação imagística que marcaram sua obra constituem o que o historiador da arte Victor I. Stoichita chama de “polimerização da imagem”. O artista que declarou que queria ser uma máquina, e que nunca revelava sua idade, adotou para suas imagens o mesmo princípio de polimerização responsável pela fabricação do plástico, material não degradável, alheio ao ciclo de deterioração e morte característico do mundo orgânico. Warhol utilizou a polimerização de duas maneiras, de acordo com Stoichita: “primeiro concretamente, ao proceder à plastificação técnica da representação-simulacro; depois, simbolicamente, ao conferir ao caráter múltiplo da vida uma unidade lisa, artificial, indestrutível”. Mas a serialização, em Warhol, foi uma forma de – na irônica celebração do mundo monolítico da mercadoria e na aparente inocência com que transpunha para suas imagens a desconcertante banalidade dos bens de consumo – incitar o observador a procurar pelo sinal da diferença ou até, como sugere Rosalind Krauss, da intensidade psicológica. Podemos ir mais longe e dizer que, sob o material imperecível do plástico, era o trabalho da morte o que Warhol dava a ver – não na chave da sublimação, mas do trauma que irrompe na própria superfície simulacral em que havia sido recalcado. O mundo liso e artificial do plástico é o túmulo lustroso da sociedade de consumo. Wiseman reencontra esse mundo na indústria da moda, em que os corpos são plastificados e depois reciclados ou mesmo descartados. Os itens de plástico, apesar da resistência do seu material ao tempo, são ironicamente os que mais rápido saem de moda.
Os filmes de Wiseman geralmente terminam com as imagens de alguma apresentação pública. O discurso da diretora da escola no auditório lotado em High School, o espetáculo imitando musicais da Broadway protagonizado pelos pacientes da clínica psiquiátrica em Titicut Follies, a apresentação de um elaborado número musical-erótico em Crazy Horse. Em Model, como não poderia deixar de ser, o filme termina com um desfile de moda. Da passeata política nas ruas ao evento de moda num prédio requintado, são as contradições estruturais do capitalismo que desfilam diante de nós.